A Grécia está em toda parte
Crise financeira atinge dívida dos Estados e abala o euro. Defensores dos mercados pedem mega-corte dos investimentos públicos. Há alternativas
Publicado 04/05/2010 às 10:44
Por Antonio Martins
Texto para a revista Retrato do Brasil 35 (já nas bancas) | Atualizado em 4/5 em Outras Palavras
Cenas que foram comuns nas crises cambiais da América Latina contagiaram com grande rapidez, nos últimos dias, a Europa e o euro – segunda moeda mais importante na hierarquia do sistema financeiro mundial. Depois de meses de estudos e hesitações, os governos da União Europeia fracassaram, na semana passada, ao tentar costurar um pacote de socorro à Grécia. Os investidores privados exigem juros cada vez mais altos para rolar a dívida pública do país. As taxas chegaram a 20% ao ano – um escândalo para os padrões da eurozona. Parte dos aplicadores está simplesmente desfazendo-se de suas aplicações.
Sem socorro, Atenas quebrará, provocando novas perdas e colocando outros países em dificuldades. Estima-se agora que sejam necessários 120 bilhões de euro, ao longo dos três próximos anos, para evitar um calote (“default”) — mas governos como o da Alemanha resistem a agir. As pedras mais vulneráveis do dominó são Portugal e Espanha, cujas dívidas foram rebaixadas, semana passada, pelas agências de avaliação de risco. Mas também Itália, Irlanda e o próprio Reino Unido acumularam dívidas de difícil amortização.
Num esforço para cativar os mercados, os Estados europeus procuram mostrar “austeridade”. Uma onda de greves e protestos (retratados na imagem do post) espalhou-se pelas cidades gregas, em resposta ao “ajuste fiscal” anunciado em 2 de maio pelo governo. Entre as medidas, incluem-se redução de salários de servidores públicos e das aposentadorias, aumento de impostos e eliminação de direitos trabalhistas (“flexibilização dos mercados de trabalho”). Estudos da revista The Economist projetam um quadro sombrio. Além do drama social, as medidas adotadas provocarão queda de 5% na produção de bens e serviços, até 2014. O pagamento de juros aos credores pulará dos atuais 5% do PIB, ao ano, para 8,4%.
Por que as turbulências financeiras globais iniciadas em 2007 reemergem agora, na forma de uma crise das dívidas públicas? Quais as alternativas?
A causa imediata do turbulhão enfrentado por Grécia, Portugal e Espanha assemelha-se à dos dramas vividos pelos “mercados emergentes” há algum tempo. Os Estados endividam-se lançando, nos mercados financeiros, títulos que rendem juros. Ao perceberem um aumento expressivo da dívida, os compradores dos papéis passam a exigir taxas maiores – ou porque enxergam risco de calote, ou para tirar proveito da debilidade do devedor.
Este movimento agrava o peso da dívida. Em março, a Grécia pagava juros de 9,75% ao ano, contra 3% na Alemanha e 1% nos Estados Unidos. De tempos em tempos, a espiral provoca uma ameaça de colapso, só solucionada pela intervenção de uma entidade financeira externa — que impõe ao Estado em dificuldades políticas “de austeridade”.
As causas da crise, a revanche dos mercados
e a alternativa das moratórias soberanas
Mas há, além da aparência, um formidável agravante. Brasil, México ou Argentina, vítimas de ataques especulativos entre 1994 e 2003, são mercados de segunda linha, na hierarquia dos sistema financeiro internacional. A Europa Oriental, que viveu o mesmo fenômeno há cerca de dois anos, também. Agora, a crise chega a países que compõem a área de uma das moedas situadas no centro do sistema. “A Grécia está em toda a parte”, registrou em março o economista Michael Krätke, da Universidade de Amsterdam.
Por que até os mercados mais poderosos agora são suscetíveis à pressão dos grandes credores? Como a União Europeia, conhecida até há pouco pelo rigor com que impunha o controle do déficit público aos estados-membros, perdeu controle sobre ele? O gráfico abaixo, construído por The Economist a partir de um estudo recente do FMI, oferece as primeiras pistas – e ajuda a entender por que o tema é crucial.
A imagem mostra que a dívida dos países mais ricos do mundo disparou, a partir de 2007. Nas duas décadas anteriores, ela cresceu lentamente, passando do equivalente a 60% do PIB para 75%. Agora, bastarem três anos para que saltasse a 100% do PIB.
A explicação é quase óbvia. A ação dos Estados foi o fator central para evitar que a crise financeira mundial iniciada em 2007 resultasse numa depressão semelhante à dos anos 1930. Em todo o mundo, os cofres públicos foram abertos para despejar rios de dinheiro sobre o sistema financeiro, e evitar que entrasse em colapso. O socorro a bancos, corretoras, seguradoras e outras instituições consumiu vários trilhões de dólares. Além disso, os Estados promoveram o resgate de empresas industriais falidas (como a GM). Concederam vultosos incentivos fiscais para reanimar, por meio do consumo, setores paralisados de suas economias. Ampliaram o desembolso de recursos com programas sociais como o seguro-desemprego e a renda da cidadania.
A crise humilhou os mitos que alardeavam a “auto-regulação das finanças”. Mas não foi suficiente, ao menos até agora, para estabelecer controles mais rígidos sobre os mercados financeiros. Por isso, seus defensores ensaiam uma espécie de revanche ideológica e política.
A recusa da União Europeia a socorrer a Grécia é um sinal. O mesmo Krätke ressalta que o BCE não libera recursos baratos ao Tesouro grego, mas mantém abertas as linhas de crédito usadas por bancos privados para emprestar a Atenas – cobrando taxas de juros exorbitantes…
Além disso, voltaram a se erguer, em todo o mundo, as vozes que propõem vasto corte nas despesas dos Estados ligadas à proteção social e ao desenvolvimento. Na mesma edição em que aponta o salto das dívidas públicas, The Economist ecoa o “remédio” sugerido pelo FMI: uma espécie de mega-choque fical, em escala planetária. Na repetição de um discurso bastante conhecido no Brasil, o Fundo foca o resultado “primário” dos Tesouros – aquele que deixa de lado o pagamento de juros… Nos países ricos, a ideia é passar do déficit atual (que, na média, equivale a 4,3% do PIB), para um superávit primário de 3,7%, até 2020.
A cantilena é antiga; mas o risco de ser adotada, real. Na Europa, a chanceler alemã, Angela Merkel, está propondo abertamente que os países incapazes de reduzir o déficit público sejam submetidos a sanções progressivas, podendo chegar à expulsão da área do euro. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama acaba de constituir uma “Comissão Nacional da Responsabilidade Fiscal e Reforma”. Liderada por dois parlamentares ligados ao sistema financeiro (um de cada partido…), ela deverá ter, como um dos alvos, restrições aos programas de seguridade social.
É a única saída? Evidentemente, não: há alternativas tanto de curto prazo, pragmáticas, quanto envolvendo um debate mais profundo sobre os gastos dos Estados. Na Europa, Michael Krätke sugere, entre outras medidas, que os governos europeus articulem empréstimos solidários aos países em dificuldades. Além de evitar ataques aos direitos sociais, explica ele, a medida puniria os especuladores que estão se aproveitando da fraqueza de alguns países, forçando-os a aceitar taxas de juros mais baixas e interrompendo o contágio.
Ao mesmo tempo, a dramaticidade da crise está suscitando o debate de soluções mais heterodoxas até entre economistas menos acostumados a isso. Vale a pena acompanhar, por exemplo, a coluna mantida, no site norte-americano Huffington Post, por Simon Johnson, professor de Economia no Massachussets Institute of Technologies (MIT) e ex-diretor do Departamento de Pesquisa do FMI (2007-2008). Além de apontar, sempre com riqueza de dados, a necessidade de uma ampla reforma nos mercados financeiros, ele tem sugerido que países como a Grécia considerem, com muita seriedade, hipóteses como a moratória soberana de suas dívidas.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras



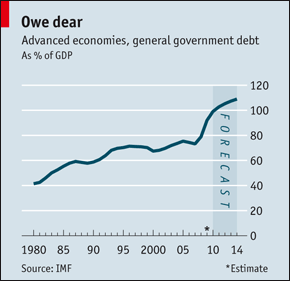
Um comentario para "A Grécia está em toda parte"