Revolução 2.0: modos de usar
Publicado 03/03/2011 às 21:25
Em três textos, as jornadas incomuns que derrubaram Mubarak, a organização em rede que deflagrou e sustentou a mobilização, e as primeiras transformações sociais no Egito
Algumas dúvidas assaltam, com frequência, muitos dos que acompanham a onda de revoltas árabes: é possível chamá-las de revoluções? Como – se, ao menos por enquanto, não se produziu nenhuma mudança fundamental nas relações entre as classes sociais, não se substituiu o capitalismo, não se instituíram novas formas de poder?
Outras Palavras publica hoje três textos que podem informar e alimentar este debate. Referem-se o país mais populoso e influente entre os que estão vivendo o vendaval – e, provavelmente, aquele em que as multidões viveram a experiência política mais dramática. Não se propõem ao debate teórico: são duas reportagens e uma crônica. Sua força está em relarem fatos extraordinários.
Em Praça Tahrir, publicado originalmente no New Yorker, a jornalista free-lancer Wendell Steavenson narra os momentos mais marcantes de sua estada de semanas, no centro nervoso do movimento que derrubou o ditador Mubarak. O texto é longo, mas a leitura prende pela sucessão de acontecimentos que indicam uma quebra clara e profunda das relações sociais rotineiras.
Os primeiros choques com os tanques, sob zunido dos caças F-16. O diálogo tête-à-tête com os militares, desafiados a responder se atirariam na população, caso recebessem ordens para tanto. A praça enchendo-se, pouco a pouco, de gente comum – dos mais pobres, que se desconcertaram com o aumento dos preços da comida a patricinhas com roupas de grife.
Os manifestantes são, então, confrontados com uma nova ameaça. O exército já não agride: o perigo está nos mercenários armados pela segurança próxima ao ditador, que chega armada e em camelos. A praça aprende, em poucas horas a ser guerreira. Barricadas, chuvas de pedras, chapas de metal transformadas em escudo e finalmente a vitória, ainda que com preço em vidas.
Tahrir transforma-se numa espécie de república autônoma, cada vez mais povoada. Os que passam pelas barricadas são saudados com canções. Alguém bota diante de sua barraca a tabuleta Motel Liberdade. Ao mesmo tempo, prosseguem as preces, cinco vezes ao dia, corpos curvados em direção a Meca.
O relato prossegue, surpresa após surpresa, até o Carnaval, quando Mubarak deixa o governo, provavelmente empurrado pelo exército. Os personagens se reencontram. Sim, eles querem ser cidado políticos, que influem ativamente no destino de seu país. Não, eles não vêem a menor necessidade de fundar um partido, para fazê-lo.
O segundo relato saiu no New York Times. O repórter David Kirkpatrick entrevistou alguns dos jovens de classe média que foram – junto com seus colegas da periferia do Cairo – decisivos na articulação a revolta egípcia e da ocupação vitoriosa de Tahrir. A partir de seus depoimentos, surgem peças do quebra-cabeças que é preciso montar para compreender a mobilização 2.0. Como se usou a internet como ferramenta de mobilização e de anonimato, num país com leis ditatoriais e aparto de segurança selvagem. Depois de as forças policiais descobrirem a internet, a sofisticação dos estratagemas para plantar falsos boatos e desconcertar a repressão.
A reportagem destaca aspectos políticos que merecem estudo. Embora houvesse, entre os articuladores, gente de distintas formações políticas (comunistas e membros da Fraternidade Muçulmana, por exemplo), mesmo as relações que eles estabeleceram entre si foram horizontais, não-mediadas pelas lideranças partidárias. Houve nítido esforço, entre a classe média, de procurar os mais pobres (“estávamos cansados de nos limitar à elite e ver sempre as mesmas caras”). Cuidou-se nos detalhes da imagem do movimento: algumas das cenas que comoveram o mundo (como o Nobel da Paz El Baradei atacado por canhões de água) foram planejadas com engenho…
Por fim, as novas relações sociais. Em crônica para um dos blogs do Le Monde Diplomatique francês Raphaël Kempf trata de algo ausente, em quase todas as coberturas de mídia. Ele mostra como os camponeses pobre estão se aproveitando do vácuo momentâneo de poder para recuperar terras que haviam sido tomadas pelos grandes proprietários – com a apoio do aparato de Estado mubarakiano.
É natural que as revoluções 2.0 causem estranheza. O “socialismo real” morreu, o capitalismo transformou-se a tal ponto, nas últimas décadas, que a maior parte dos programas de transformação tornou-se obsoleta. Os princípios que levaram as velhas gerações a enfrentar o capitalismo permanecem atuais, é claro. Mas é preciso inventar as formas de convertê-los em lógicas, projetos e ações de superação do sistema hoje hegemônico.
Há dias, Outras Palavras publicou textos que abordam teoricamente o vendaval árabe. Immanuel Wallerstein lembrou que as revoluções são, por sua própria natureza, imprevisíveis: ninguém deve iludir-se, imaginando que algo está decidido. Antonio Negri e Michael Hart identificaram os aspectos que tornam o movimento universal: ele não se volta apenas contra tiranias, mas demanda (ainda que muito embrionariamente) novas formas de organizar produção a distribuição de riquezas e a própria democracia. Manuel Castells analisou a desierarquização das relações humanas, possível graças à apropriação da internet, e debateu as consquências.
Mas, assim como a revolução 2.0, a própria teoria sobre o que se passa no Oriente Médio não poderá ser obra de intelectuais iluminados, mas das reflexões de todos nós. Por isso, é tão importante começar a reunir elementos muito concretos sobre o que de fato está se passando.


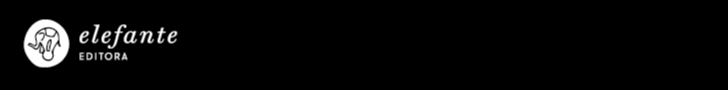

6 comentários para "Revolução 2.0: modos de usar"