Educação: a aposta radical do oficinar
Contra a alienação do ensino taylorista, surgem dinâmicas que buscam valorizar múltiplos saberes, desierarquizá-los e quebrar fronteiras entre eles. Mas há riscos: superficialidade, performismo e menosprezo pela reflexão e pela crítica
Publicado 10/12/2020 às 16:26 - Atualizado 11/12/2020 às 21:29

Por Antonio Lafuente
Taylorizar um projeto supõe separá-lo em tantas partes quanto possível e, em seguida, designar a elas uma posição em uma cadeia de eventos sucessivos e, paralelamente, em outra cadeia de valor. Assim, cada fragmento tem sua hierarquia, seu responsável e seu momento em uma cadeia de produção e reprodução. Taylorizar é colocar cada um em seu lugar e criar um lugar para cada um. A finalidade de tudo é melhorar a eficiência do sistema e aproveitar melhor os tempos. Não importam as habilidades dos integrantes da cadeia porque, ao serem separadas as funções, basta que seja cumprida aquela que lhe foi designada. Nada é híbrido (mistura de culturas), aleatório (deixado à improvisação) ou insuficiente (aberto à adaptação). Tudo deve se encaixar em uma cadeia de causas-efeitos que funcione sem conflitos, sem ajustes, sem equívocos. Tudo deve ficar no nível de máxima operacionalidade.
A taylorização cria especialistas programados, funções fixas, margens vigiadas, concepções próprias, práticas submissas e culturas fechadas. Em oposição à taylorização estão as iniciativas hacker, os arranjos do bricoleur, os protótipos abertos, os coletivos amadores, os hábitos populares e todas essas formas de codificar o conhecimento dividido que implicam em truques, artimanhas e improvisações. Os espaços DIY [do it yourself, ou “faça você mesmo”], os movimentos táticos, os projetos makers ou os grupos de amantes das plantas, a cozinha e o patchwork, todos em seu conjunto, encarnam e mobilizam uma cultura que quer ser diferente. Uma cultura que é contra-hegemônica e que quer ser chamada de radical.
Contra-hegemônica e radical, mas não necessariamente esquerdista. Capaz de visualizar outro mundo possível, mas crítica com a ideia de que a divisão nas classes possa explicar todos os conflitos que enfrentamos. Radical porque aponta para todas as direções e contra todas as dicotomias que criam falsos e desnecessários lugares de passagem entre fronteiras imaginárias. Radical porque os rompimentos entre antigo e moderno, entre funcional e obsoleto, entre velho e jovem ou entre passado e futuro são tão artificiais quanto interessados no serviço de um mundo que vê empecilhos em tudo o que não pode instrumentalizar sem descanso. E junto com as formas mencionadas de territorializar o tempo, também há outras maneiras de habitar a urbe que levam a negar a pertinência dessas dicotomias que querem uma tensão extrema entre o privado e público, entre a tecnologia e o artesanato, entre o amador e o profissional ou entre a produção e a reprodução. Combater esses encerramentos da inteligência e da vida é apostar no radical, sem a necessidade de ser esquerdista, sem necessidade de colocar todos os ovos na mesma cesta ou, em outras palavras, sendo um pouco mais pós-moderno e um pouco menos universal.
Temos que distinguir entre taylorização e granularização. Fragmentar os projetos em partes é atribuir ao seu desenvolvimento etapas intermediárias a serem alcançadas. Há muita sabedoria em construir os projetos para que uma sequência de pequenas metas intermediárias estimule sua continuidade, aproveitando assim essa condição evolutiva do cérebro que premia essas simples vitórias com liberações de endorfina. A fragmentação então é uma estratégia que coloca os atores em primeiro plano, tanto porque é uma forma de fazer seu trabalho de maneira mais agradável e produtiva, como também porque é uma garantia de hospitalidade a quem possa se interessar pelo que fazemos. A descomposição em fragmentos dos projetos favorece a incorporação de interessados, tanto os que têm muito tempo, quanto os que apenas podem desviar algum momento esporádico e intermitente. Os projetos granulares criam espaços comuns, os taylorizados destroem a comunidade. A taylorização é um gesto vertical, autoritário, arrogante e fechado: se antepõe ao rendimento, nega a participação, ignora as “outras“ habilidades do trabalhador e é, em consequência, duplamente alienante, pois separa o trabalhador do fruto de seu trabalho, além de separá-lo também de suas habilidades cognitivas.
A taylorização do trabalho favorece sua mercantilização e nos transforma em dispensáveis, contingentes e dóceis. É a estrada que conduz à precarização. É a estrutura que confunde as organizações com seu organograma e que faz do trabalhador um escravo da máquina. Taylorizar a cultura é transformá-la em informação para que logo o mercado a transforme em um recurso. E aqui cabe, tomara que não aconteça tão logo, perguntar quem ganha e quem perde cada vez que tais dispositivos se mobilizam. Se você considerar o lado mau da equação, nunca encontrará respostas suficientemente satisfatórias. Se considerar o outro, não deveria descansar em paz. Por isso precisamos de mais conceitos para incluir no repertório de instrumentos com os quais podemos entender e mudar o mundo. Temos que aprender a trabalhar no modo oficina.
Oficinar a cultura ou a educação implica em suspeitar de todas as tentativas de descompor o aprendizado em seções, níveis, objetivos, provas e qualificações. Também supõe discutir a divisão por disciplinas, áreas, matérias ou conhecimentos. E, desde cedo, desrespeitar essas fronteiras que querem separar o formal do informal, ou o acadêmico do urbano, o objetivo do político, o tecnológico do artesanal e o cultural do científico. Nenhum estudo confiável que tenha se aproximado o suficiente dessas divisões deixou de nos explicar as muitas formas de atravessá-las, especialmente pelas pessoas que são seus vizinhos e que as suportam. Oficinar a educação implica então em apostar em outros modos de fazer com que seja diminuída a distância entre o que se ensina e o que se aprende, entre o que chamamos de saber e o que entendemos por fazer, entre ser original e ser um bom DJ, entre produzir e compartilhar, entre argumentar e visualizar. A oficina parece o instrumento adequado para a implementação do design thinking ou é o caminho necessário das palavras aos atos, o que é o mesmo que dizer que se configura como um excelente recurso para promover uma cultura socialmente colaborativa, juridicamente aberta, politicamente radical e epistemicamente plural. Sim, oficinar a educação é uma forma de “hackeá-la”.
Temos confiado tanto em seminários, simpósios ou congressos que nos surpreende sua ampla ascendência e seu rápido envelhecimento. É inevitável que acabem sendo a expressão genuína de uma cultura elitista e entediante. A oficina, o festival e a unconference continuam crescendo como formas mais abertas e praticáveis de troca de experiências e conhecimentos. Não se trata de mudar as palavras, mas as culturas. Ninguém mais quer escutar brilhantes ladainhas. Não se trata de se misturar com os mais inteligentes, mas de inaugurar outros processos. Não tem mais mérito quem sabe mais, mas quem mais (se) oferece. Não se trata de esclarecer, desvendar ou revelar nada, mas de escutarmos, dividirmos e cuidarmos. O mérito não é de quem assina primeiro, mas de quem cuida melhor. E cuidar é fazer as coisas juntos. A oficina é o novo espaço que precisamos? Será a oficina o lugar da crítica?
A cultura deve ser crítica. A cultura deve resistir a qualquer precipitação e estar atenta às muitas tentativas de simplificação. Ser crítico implica não se resignar aos modelos reducionistas. Ser culto não é saber fazer as coisas. Não basta dispor de um livro de receitas a partir do qual resolver (nossos) problemas. A cultura não deve ser só funcional. Melhor que o seja, mas não é suficiente. Para ser culto não basta mapear os problemas, os territórios ou os conflitos de forma verossímil, contrastada e normalizada. Ser culto não é o mesmo que ser científico. Uma cultura é crítica quando sabe medir as consequências das coisas. Uma pessoa culta sabe ver a face oculta da Lua. Não se contenta com as realizações, também quer avaliar os danos colaterais. Uma pessoa culta sabe que é impossível iluminar um objeto sem criar uma sombra. Uma pessoa crítica sabe que na sombra se acumula muita dor, muita exclusão e muita mentira criadas com o mesmo gesto que buscava a felicidade, a democracia e a justiça. Não há uma sem a outra e, portanto, não há cultura sem contracultura.
* * *
A oficina tem seus monstros: o imperativo do oficinismo e o mal da oficinite. Há pouco tempo, senti essa consequência que impõe um só modo de compartilhar conhecimento: o oficinismo. O oficinismo tem fácil explicação. Consiste em admitir que na sala de aula se vai desenhar, discutir, compartilhar ou trocar receitas. Tudo o que não cabe em uma receita é especulativo, discursivo, unidirecional e antigo. Temos que falar de coisas práticas, rápidas, replicáveis e divertidas. Sem uma apresentação na tela, um pacote de post-its coloridos, um momento de trabalho em círculo e algum contraste dramatizado de critérios, os conteúdos ficarão obsoletos, suas aulas serão interrompidas e os professores perderão o direito à cidade. Educar é ensinar, mas aprender junto. E aprender poderia se transformar em acumular habilidades: cultivar plantas, tocar piano, trocar conteúdos, recodificar algoritmos, narrar histórias e percorrer o mundo. Bonito sonho, e necessário.
Recapitulemos um instante. No modo oficina, o professor já não se imagina como docente, mas como um facilitador, mediador, treinador, acompanhante… Um coach, dizem as escolas de negócios. Para realizar um seminário, é preciso conhecer muito sobre o tema, mas para abrir uma oficina, é preciso ter outras habilidades, como a de ser versátil, espirituoso e sociável, assim como não exagerar no rigor, não manifestar erudição, não se envolver em virtuosismos dialéticos ou não exigir leituras exageradas. Alguém que trabalha nas oficinas, o oficinista opera como uma espécie de cola social e é o artista da sociabilidade. Conforme a maneira como o vemos, dependendo de onde o consideramos, o oficinista poderia ser um ator imprescindível, sempre atento ao cuidado dos afetos e efeitos que se mobilizam no espaço da oficina. Se o público já é social entertainment, a oficina poderia se transformar em terapia social. Na oficina, fazemos coisas, mas sobretudo as fazemos juntos e isso parece acalmar a ansiedade de muitos. Me parece que não é suficiente e que falta alguma coisa. Falta alguma coisa?
No modelo oficina, se lê pouco e com pressa. Se discute menos do que se fala. O objetivo não é problematizar nossos conceitos, nossas práticas, nossos códigos ou nossas tecnologias. O objetivo é adequá-los rapidamente e transformá-los em um tutorial. Sempre há muita documentação. Tudo deve ser registrado e postado na rede. O esforço documental é admirável e ensina o caminho a uma cultura mais aberta e participativa. Sempre há uma infinidade de fotos, vídeos, desenhos, mapas mentais e outros trabalhos manuais. Em uma oficina, sempre há tempo para criar, processar e pós-produzir resultados. Todos fazem tudo. Não há divisão especializada do trabalho. Há um preço a ser pago por tudo isso, pois o modo oficina consome muito tempo e, consequentemente, os processos que ele inicia devem ser concentrados e curtos. Enfim, não há tempo para tentativas, o incerto ou o imperfeito.
Em sua forma mais paródica, as oficinas são um espaço de estagnação, onde se forma gente obediente e conformista: exploradores de salão, não de campo; cozinheiros de domingo, não diários; redatores de críticas, não leitores. Engrandecer uma receita supõe implementar práticas móveis entre diferentes domínios do saber, pois implica em contrastar experiências, estabelecer termos ou trabalhar colaborativamente. Entretanto, destacar-se exige um compromisso de maiores riscos como, por exemplo, aceitar que a verdade certamente estará bastante dividida e que todos, incluindo os que creem ter razão, devem renunciar a sua imposição. Não se trata de convencer, mas de conviver: fazer o possível para a vida em comum. O gesto crítico implica escutar pontos de vista muito diferentes e, fugindo do consenso que sempre foi a forma na qual as maiorias se impuseram frente às minorias, construir narrativas que não sejam alérgicas ao frágil, ao contraditório, ao dividido e, enfim, ao plural. Ser crítico é criar mecanismos que evitem a produção de mais excluídos, mais minorias, mais periferias, mais invisíveis… Os muitos arredores com os quais convivemos.
Se a taylorização nos fez eficientes e alienados, a oficinização poderia nos fazer funcionais e estúpidos. E a essa nova doença poderíamos chamar de oficinite. Sofrem dessa doença as pessoas que já não confiam nas tradições dialógicas e que fogem das tensões, dos interstícios e das sombras.
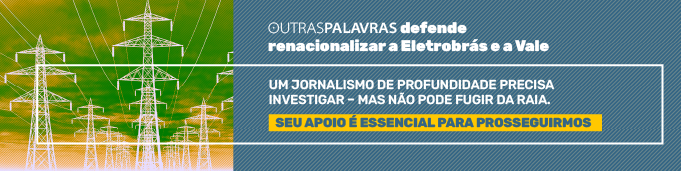
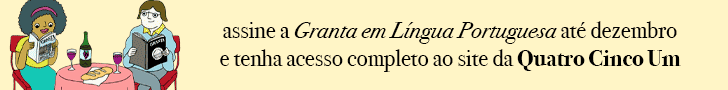

Para usufruir de uma Educação de qualidade é necessário ter uma escola para todos(desde a creche, pré-escola até ao ensino superior público) onde os alunos estejam e se sintam seguros(tratados com igualdade e equidade) para aprender em uma logística, estrutura e infraestrutura apropriadas para isso – infelizmente essa não é a realidade para a maioria dos alunos no Brasil. Os professores e os alunos têm que tornar-se e sentir-se cada vez melhores e resolvidos no seu dia após dia. A Educação tem que ser o melhor possível e muitíssimo bem estruturada, coesiva e racional, para que se possa melhorar e aumentar sincronicamente a qualidade e o desempenho dos professores e dos alunos. Sem uma Educação de qualidade para todos, o país manter-se-á subdesenvolvido e dominado pelo neoliberalismo.